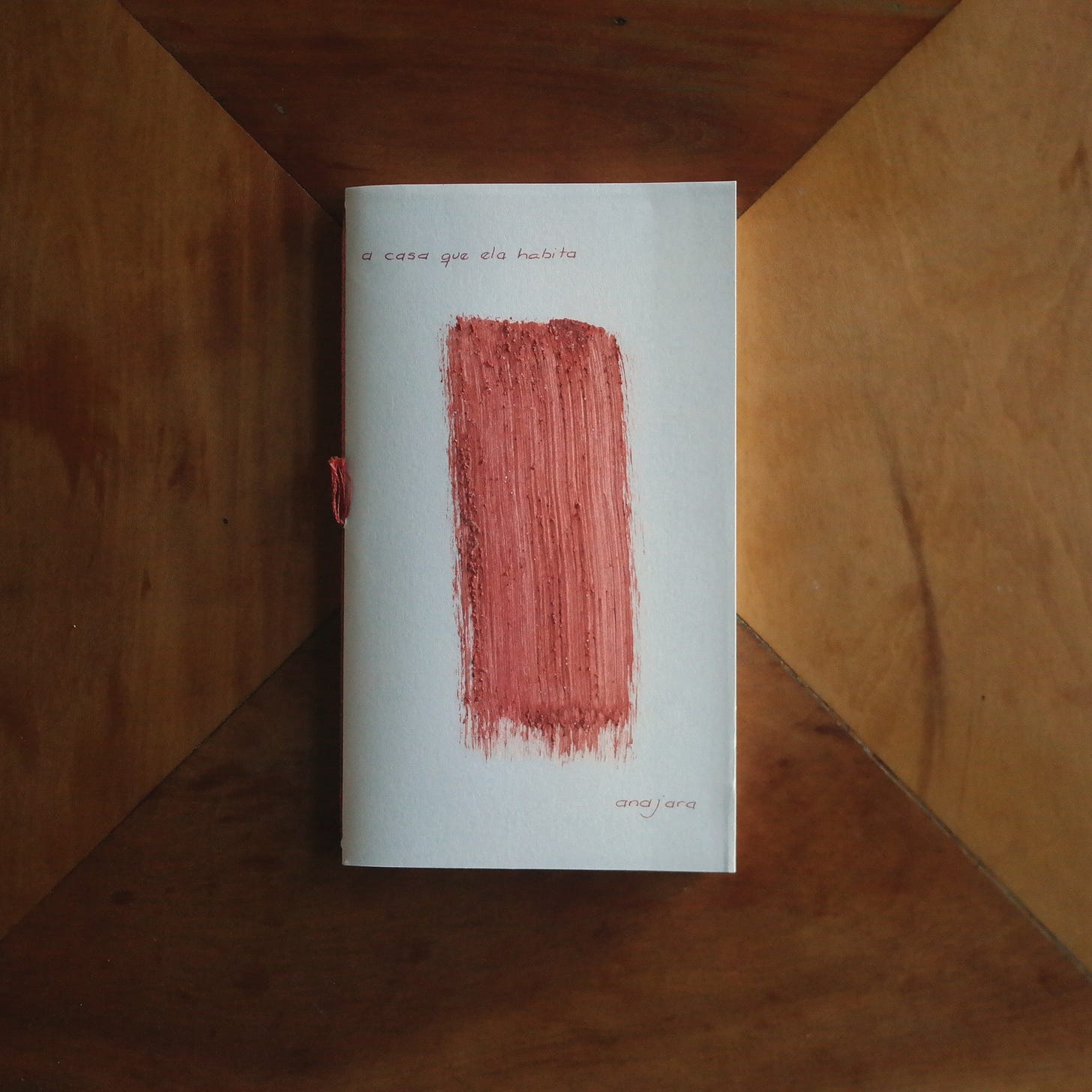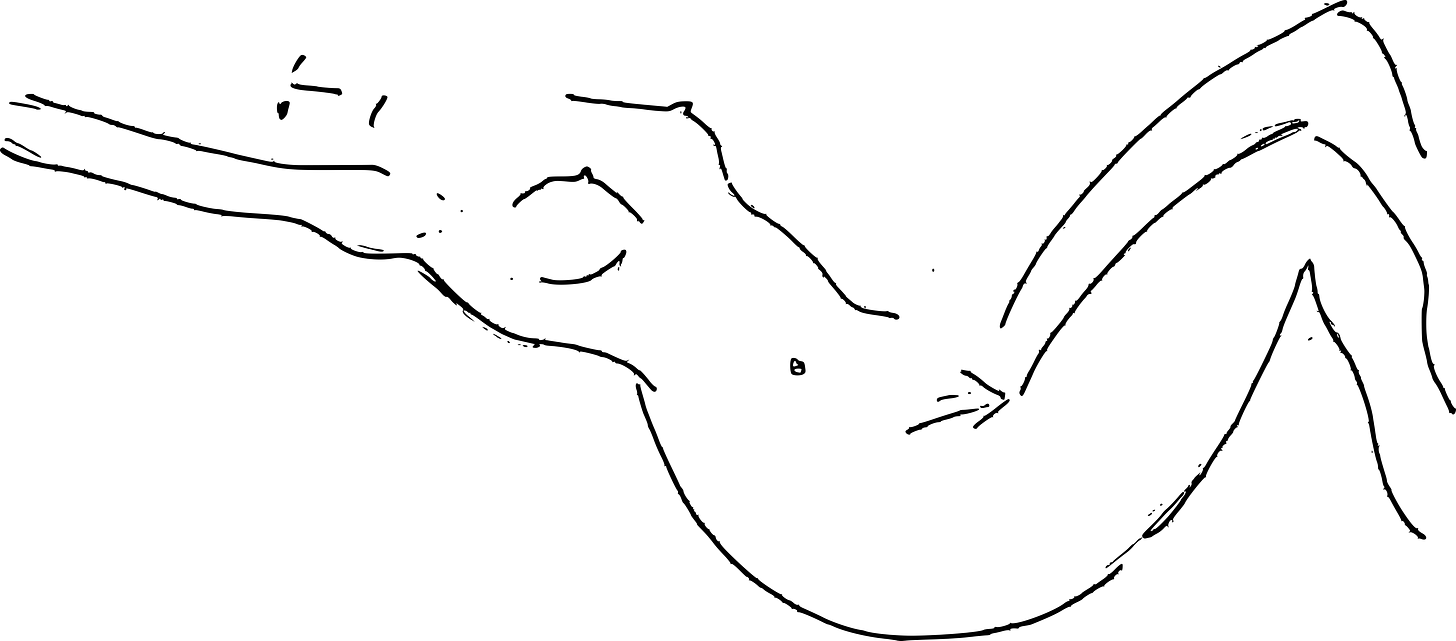A mulher, o branco, a casa, a cidade, o corpo, o texto.
anajara nos conduz pelos sinuosos caminhos subterrâneos, somáticos, eróticos, domésticos e urbanos através das vozes das mulheres que todas somos. Sua escrita é repleta de miragens, imagens que se retorcem e surgem espontaneamente conforme a narrativa se tece. Uma mescla muitas vezes indistinguível entre o universo psicológico e o material. A autora nos dá um fio para caminharmos entre os mundos. É uma trilha de dores, fendas e redescobertas. Uma trilha cheia de lama e desenhos autorais.
a casa que ela habita, publicado em agosto do ano passado, foi o primeiro lançamento da coleção INCIVILIZADA, que criamos para publicar textos inclassificáveis, crus, viscerais. Ter iniciado com a escrita de anajara foi um presente.
É um livro totalmente artesanal (como tudo o que fazemos); a costura, exposta; o formato, elegante (20,5cm x 11,8cm); o título e autoria são manuscritos da autora; a mancha no centro da capa é pincelada única de cada exemplar, com tinta feita à base de argila vermelha, colorau e corante.
A seguir, deixamos um gosto da prosa poética e também das ilustrações feitas pela própria autora carioca, que estão trançadas nas 100 páginas dessa obra que funde o texto ao corpo — corpo banhado em água morna, óleo, brancura, calor, solidão.
Na cadência dos dias, Elena besuntava as paredes brancas de sons, vozes, letras de músicas que havia colecionado ao lado dos vulcões, das sinfonias e dos tapetes que tecia. Assim, ateava fogo nas paredes brancas. Incorporava as vozes e sujava o imaculado silêncio com a tinta forte das canções. Ventava. Manso o dia claro anoitecia, promessa de chuva, o mar distante aquiescia, as planta aguavam, os transeuntes se apressavam. As paredes brancas se deixavam atravessar pelo movimento do tempo no papel e pela demora.
Os gatos corsários passeavam silêncio no branco enquanto o coração descompassado traía o alvoroço da paixão na pele. Sutil movimento na superfície arrepiada pela poesia lacônica. Fugidio instante em que as palavras, em frases curtas, mancharam com sombras as passagens, percutiram o corpo e reverberaram intensidades. Silêncios insinuantes atravessaram os poros da parede branca-flauta, que se calou quando o sopro findou. O vento era escuro na tarde que avançava e acentuava o mistério de chuva e água sublimadas em éter no mar. A paixão era vapor e tempestade.
Habituava-se com a sensação de que ocupar a casa era mais do que dispor a mobília, guardar roupas, organizar utensílios de cozinha e tecer. Era mais do que arrumar a cama com lençóis limpos e ali adormecer pela primeira vez como quem confia e se abandona ao sono no quarto desconhecido e vazio ― uma tenda erguida no deserto.
O quarto tela de luminescências que se apagam por dentro. Povoado de silêncios engendrados na madrugada. Promessa de familiaridade e estranhamento. Sabia que habitar era fiar no extenso tear das paredes brancas a tessitura de abandono e posse, distanciamento e ocupação, agrimensuras de fincar cercas e borrar fronteiras, sobretudo entre o dentro e o fora (de si).
A escada pousava antiga sobre o chão liso de terra batida.
O barro trazia a sensação chã de chegar a algum lugar. Deriva do encontro com o tudo. Uma das possibilidades ao final da descida.
(Entre o tudo e o nada a possibilidade do entre)
Sentia na boca o gosto criança de terra, as mãos sujas, o balanço parado a emoldurar a fotografia do parquinho no acampamento da infância. Infância acampada na memória sem traços e tintas fortes. Memória morna e tramada pelo que poderia ser dito e o interdito. Um não para cada porta trancada e a infância sem marcas, um corredor escuro, atravessado na garganta.
Ana Carmen Amorim Jara Casco. Carioca da serra, nômade por ascendência Guarani, sol em câncer, regida pela lua. Mãe e avó. Aprendiz das prendas, preciosidades e mistérios do lar, do amar, do preservar e inventar, do ensinar e do escrever.